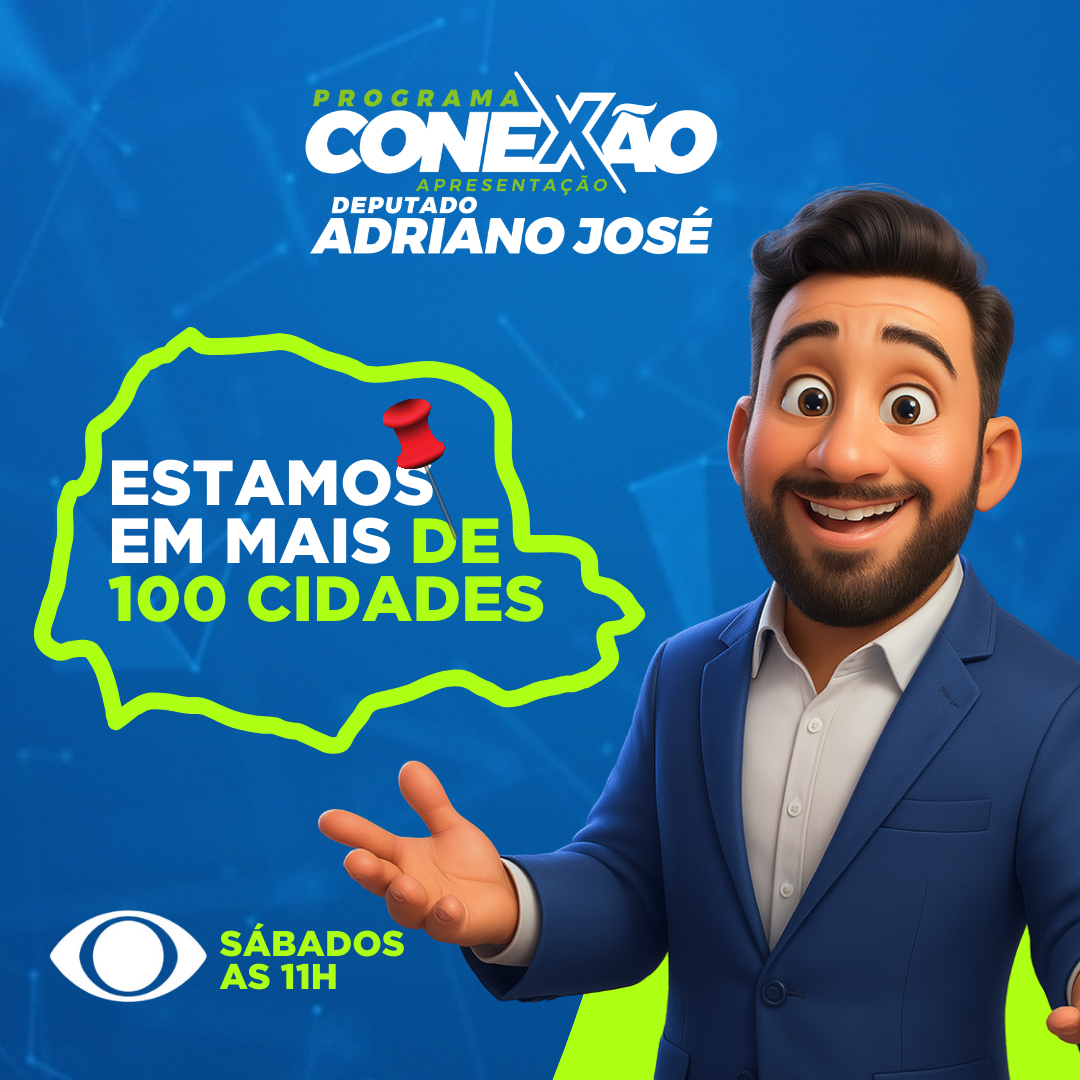A obscenidade, originária do latim ‘ob scenam’, referia-se ao que não podia ser mostrado no teatro, como assassinatos e sofrimento extremo. Hoje, o palco mudou para o espaço urbano, onde se busca esconder não a nudez, mas a presença dos famintos e despossuídos, marginalizados como um ruído indesejado na paisagem da cidade. Essa inversão de valores expõe uma dura realidade: o que realmente escandaliza não é o desejo, mas a persistente injustiça social.
Em uma marcante entrevista, José Saramago confrontou a moralidade vigente ao declarar: “Não é a pornografia obscena, mas sim a fome”. Essa afirmação desloca o foco do escândalo moral da esfera do desejo para a dimensão da injustiça social. A verdadeira obscenidade reside, portanto, nos mecanismos que sistematicamente produzem e perpetuam a miséria, tratando-a como um mero dado estatístico.
A obscenidade se manifesta naquilo que se tenta esconder, afastando do olhar público a realidade da fome e da miséria. É a política da negação visual, que empurra os marginalizados para debaixo de viadutos, longe das vitrines reluzentes e do centro da cidade. O que se pretende ocultar, ironicamente, é o alicerce sobre o qual se ergue o espetáculo da cidade.
O território urbano se estrutura sobre essa lógica perversa, onde a violência é normalizada e camuflada em números e relatórios técnicos. A paisagem metropolitana se sustenta no eufemismo da tolerância, coexistindo com o inaceitável, enquanto a miséria ganha novos nomes e a dor se transforma em planilhas. A fome se torna um escândalo não por sua visibilidade, mas por seu desaparecimento por trás de uma linguagem dissimuladora.
A cidade se transforma em um palco, onde o progresso e a ordem desfilam em cena, enquanto os bastidores abrigam catadores, ambulantes e pessoas que dormem ao relento. Muros, calçadas seletivas e bancos “anti-mendigos” são exemplos da censura silenciosa praticada na paisagem urbana. A estética se torna um instrumento de apagamento sistemático, onde corpos humanos se confundem com o mobiliário urbano e a miséria é categorizada como ruído ambiental.
A linguagem, por sua vez, funciona como um filtro moral, transformando urgências humanas em abstrações gerenciais. O morador de rua é rotulado como “indivíduo em situação de vulnerabilidade”, e o abandono se torna uma “lacuna nas políticas públicas”. A estatística, então, se transforma em um escudo protetor, a neutralidade em um disfarce conveniente e a invisibilidade em uma política deliberada.
Para confrontar essa realidade, como propôs Saramago, é crucial restaurar a visibilidade daquilo que o espaço urbano se esforça para negar: o corpo faminto, o sofrimento concreto, a miséria que nos observa e questiona. Quem somos nós para chamar de cidade um espaço que elegeu a cegueira como virtude?